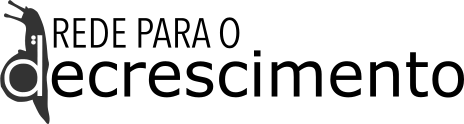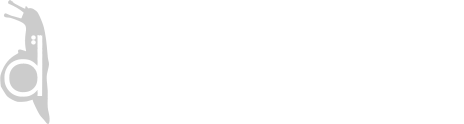ISEE-Degrowth 2025: Discutir o decrescimento num estado petrolífero e os terríveis dilemas da modernidade colonial

Neste texto damos conta de quatro experiências diversas que se foram construindo a partir de um programa extenso onde sete grandes diálogos plenários se articularam com cerca de 800 apresentações orais e posters, o programa social e cultural paralelo, e intervenções ativistas. Foi escrito na sequência do encontro do Núcleo de Lisboa do dia 15 de julho que permitiu uma troca de ideias entre quem participou na conferência (Devina Shah, Filipe Medeiros, Hans Eickhoff e Patrícia Melo), quem assistiu aos eventos com o Timothée Parrique em Lisboa (Ana Sardoeira, João Wemans e Jorge Farelo), bem como Sofia Oliveira do CADA.
Começamos com este enquadramento do Hans:
Depois de lentas viagens por terra e por mar ou após uma chegada algo repentina de avião, Oslo recebe as pessoas – viajantes e congressistas – num ambiente tranquilo e verde, com poluição sonora mínima. No centro da cidade, o transporte é largamente automobilizado por bicicleta e à pé ou assegurado por transportes públicos (metro, comboio, elétrico, autocarro). Poucos são os carros e muitos daqueles que (ainda?) circulam são movidos por motores elétricos. Aprecia-se facilmente um ambiente urbano que se carateriza por edifícios seculares e por construções modernas de grande qualidade e impacto visual como a biblioteca pública ou a ópera. O contraste com o caos urbano e os problemas de mobilidade da cidade de Lisboa são deverás impressionantes, sendo fácil ficar cheio de inveja e admiração. Mas a seguir ao deslumbramento espontâneo devemos parar para nos lembrarmos que muitos dos recursos que tornam isso possível provêm do negócio fóssil, responsável por quase metade das receitas do comércio externo. Também o Fundo de Pensões Global do Governo da Noruega (anteriormente designado por Fundo Petrolífero), criado no final da década de 1990, recebe a maior parte do seu rendimento das receitas do petróleo e do gás, possuindo atualmente 1,5 biliões de dólares em ativos - três vezes o PIB do país. No total, um quinto de todas as receitas do Estado provém das receitas dos combustíveis fósseis (2019).
Quando foi anunciado que a conferência teria lugar em Oslo, as críticas não se fizeram apenas ouvir em relação ao peso da indústria fóssil na economia norueguesa, mas também em relação aos custos que a participação na conferência ia implicar devido ao elevado custo de vida na Noruega (> 200% em comparação com Portugal) e à localização periférica na Europa, impedindo desde logo muitas pessoas sem apoio institucional a participar. Para colmatar minimamente esse problema, o International Degrowth Network (IDN) decidiu apoiar financeiramente as viagens de detentores de funções dentro da sua organização (coordenadores de círculos, por exemplo).
Na véspera da conferência decorreu a Assembleia do Movimento Decrescentista, organizada pelo IDN, com a participação de cerca de 80 ativistas de todos os continentes, embora maioritariamente Europeus ou baseados na Europa. Como refere o Hans, único participante português na assembleia, foi uma excelente oportunidade para conhecer e (re)encontrar outras pessoas ativistas, depois de muitas reuniões online ou encontros presenciais passados, num formato muito horizontal e participativo. O “programa oficial” acabou por ser um pretexto para partilhar e trocar ideias sobre “Histórias de Mudança” (na parte de manhã) ou discutir formas de participação política (à tarde).
A conferência começou no dia seguinte a habitual cerimónia de abertura que incluiu momentos musicais e discursos, seguido do primeiro diálogo plenário e, obviamente, comida e bebidas para acompanhar o convívio final. Sendo o lema da conferência “Construir futuros pós-crescimento socialmente justos – ligar a teoria à ação”, o discurso inaugural do presidente da conferência e da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, Erik Gomez-Baggethun, revelou desde logo uma intenção política de académico ativista. O forte cunho de intervenção política, agora numa vertente executiva, também permeou o discurso de Irene Vélez-Torres, Diretora da Agência Nacional do Ambiente da Colômbia, em substituição do Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, impedido de viajar devido a problemas políticos internos. A mensagem foi clara: é preciso acabar com o poder da indústria mineira e fóssil e fazer uma transição justa para uma sociedade pós-fóssil e isso num país que tem uma forte tradição mineira e reservas fósseis por explorar. Enquanto a vontade de intervenção política e o apelo a mudança estiveram sempre presentes no evento de abertura, também na potente intervenção musical da ativista-cantora lapónica Ella Marie Hætta Isaksen a reclamar os direitos do seu povo e no primeiro diálogo plenário sobre “Descolonizar o futuro: Lutas da juventude pela justiça intergeracional”, vincando os propósitos da organização, essa dinâmica acabou por se esvanecer um pouco durante os próximos dias da conferência mais académica.
Durante a conferência, os diálogos plenários (todas as gravações aqui) nunca tiveram a concorrência de sessões paralelas. Mas não terá sido só por isso que o auditório principal tivesse ficado sempre lotado, sendo necessária a transmissão direta para outro auditório para acomodar a maioria das 1300 pessoas registadas. Temas como as desigualdades da transição verde, o eurocentrismo do decrescimento, a questão da suficiência, o papel do trabalho, as práticas decrescentistas, e as estratégias e táticas transformativas centraram-se no cerne do debate sobre presença e futuro do decrescimento enquanto teoria e prática de mudança e tiveram a presença de académicos e ativistas de renome mundial, de Thomas Piketty a Kate Raworth, de Lebohang Liepollo Pheko a Ekaterina Chertkovskaya, entre muitas outras pessoas participantes. Ficou bem patente a tensão (produtiva, espera-se) entre uma visão mais académica, ou até dentro do sistema, e uma visão mais disruptiva, particularmente visível nas vozes do Sul Global e do Degrowth & Delinking Collective que reclamou pelo desmantelamento do poder imperial e colonial do Norte Global.
A sessões paralelas a que o Hans assistiu, demonstraram bem as linhas de fricção entre as várias escolas de pensamento e de investigação presentes na conferência: enquanto na sessão “Limites e escassez na economia ecológica e decrescimento - divergências ontológicas”, para a sua grande surpresa, o ímpeto ecomodernista e a modelação tecno-económica acabavam por ignorar os limites sociais e ecológicos do sistema planetário, a sessão “Imaginários de decrescimento, utopias concretas e políticas prefigurativas” discutiu o legado de Ivan Illich, “Espaços de resistência e reexistência no valor vernacular” (Carlos Tornel – ver também aqui) e as “Diversas ambientalidades e necessidades radicais: Conceptualização da conservação florestal anticapitalista na Índia Ocidental” (Annie James), moderado pela histórica ecofeminista Ariel Salleh que propôs “Ler o político através de uma lente ecocêntrica”.
Noutras sessões foram notórias as limitações que o financiamento para a investigação impõe através do foco no Norte Global. Apesar da pertinência do assunto, isso foi, por exemplo, patente no título e nos conteúdos da sessão “Sistemas de proteção social pós-crescimento nos países nórdicos: Redistribuição e “desmercadorização” como estratégias de transformação”, moderada por Max Koch, coautor do eminente e recomendável artigo “Desafios para a transição decrescentista: O debate sobre o bem-estar”.
De uma forma geral, pareceu ao Hans que ainda é difícil questionar radicalmente o ideário da modernidade e da civilização industrial que, no seu entender, são intrinsecamente coloniais e destruidores do equilíbrio do sistema terrestre. Gostaria ainda de lembrar o mecanismo psíquico de repressão ou recalque de uma verdade intolerável – nesse caso do colapso socioambiental em curso – talvez possa, pelo menos em parte, explicar a nossa resistência à necessidade de renunciar às amenidades do privilégio da modernidade. Assim, a proposta de organizar a próxima conferência internacional do decrescimento em Portugal (“Territórios de transformação intersticial: práticas de decrescimento para uma civilização em colapso”) poderá enfrentar esse bloqueio e “contribuir para a capacidade de resistência coletiva e de auto-organização, apoiar as comunidades no processo de compreensão da situação difícil que enfrentam e revelar caminhos de auto-organização replicáveis, de criação de resiliência e de inspiração para se prepararem para uma transição que, muito provavelmente, não será conduzida pelo Estado nem por atores institucionais”.
A participação da Patrícia, por motivos profissionais (é coordenadora da licenciatura de economia do ISEG) e pessoais centrou-se especialmente em dois grandes temas: o ensino da Economia Ecológica e a relação entre ciência e ativismo. Eis o seu balanço e as suas impressões pessoais:
1. O ensino da Economia Ecológica nas escolas de Economia e Gestão
A transformação profunda dos sistemas económicos requer mudanças estruturais no modo como ensinamos Economia. Sem uma revisão crítica dos currículos das faculdades de Economia e Gestão, será difícil avançar para modelos verdadeiramente sustentáveis. É com este enquadramento, enquanto professora universitária, que participei nesta conferência: para perceber que redes, ferramentas e experiências existem que possam ajudar a transformar o ensino no ISEG e em instituições semelhantes.
Houve algumas sessões dedicadas ao ensino da Economia Ecológica, revelando a diversidade de abordagens existentes. No entanto, também ficou claro que nem todas partilham os mesmos fundamentos epistemológicos ou ontológicos. Entre as várias correntes, destacou-se a chamada abordagem socioecológica apresentada por Clive Spash, uma perspetiva crítica e profundamente disruptiva, que se distancia profundamente da Economia Ambiental. Esta última, por sua vez, continua a ter maior aceitação nos meios académicos convencionais, por ser mais facilmente integrável no paradigma dominante.
Na apresentação do seu novo livro, Foundations of Social Ecological Economics, Clive Spash ofereceu um enquadramento muito útil (fotografado num dos slides, copiado abaixo), onde sistematiza os principais paradigmas alternativos e os seus pontos de contacto e tensão. A sua proposta é, simultaneamente, uma crítica e uma reconstrução teórica da Economia Ecológica.
Um dos momentos mais interessantes para mim foi o workshop organizado para divulgar a nova Plataforma de Desenvolvimento Curricular da ESEE, a ESEE Curriculum Development Platform. Trata-se de um recurso colaborativo, onde membros da rede de Economia Ecológica partilham materiais, programas de ensino, bibliografia e metodologias pedagógicas. O objetivo é reforçar e expandir a comunidade de ensino nesta área, promovendo a sua institucionalização nas universidades europeias. Pretende-se, aliás, que todas as futuras conferências da ESEE e da ISEE tenham sessões dedicadas ao ensino, como forma de partilhar práticas e fortalecer esta rede emergente.
Uma nota final sobre este ponto: ficou patente que não existe uma sobreposição entre os campos da Economia Ecológica e do Decrescimento. Apesar de haver pontes e convergências, não são sinónimos, algo que pode causar surpresa, tendo em conta que esta conferência reuniu precisamente estas duas correntes. Para alguns participantes, esta separação é problemática; para outros (como é o meu caso), é uma riqueza.
2. O diálogo entre ciência académica e ativismo
Uma das particularidades desta conferência é o seu formato duplo: por um lado, a Ecological Economics Conference, mais académica, promovida de forma alternada pela ESEE e ISEE; por outro, a Degrowth Conference, promovida pela International Degrowth Network, com um cariz mais ativista e orientado para a transformação social.
Esta conjugação enriquece imensamente a experiência, sobretudo para quem, como eu, acredita que a produção de conhecimento científico deve estar ligada a práticas de mudança no mundo real. No entanto, também se tornam visíveis algumas tensões entre as duas comunidades: a académica e a ativista. Estas diferem frequentemente nas prioridades, na linguagem e, sobretudo, nos ritmos de transformação que consideram possíveis ou desejáveis.
Estas diferenças foram evidentes em algumas sessões plenárias, onde se confrontaram visões sobre o papel da ciência e a urgência da transição social e ecológica. Apesar de desconfortáveis, estes momentos de fricção são reveladores da vitalidade do debate e da necessidade de mecanismos eficazes de diálogo e facilitação entre académicos e ativistas.
Fica também uma reflexão mais profunda sobre os limites do pluralismo científico. Mesmo num espaço onde se procura acolher a diversidade epistemológica e ideológica, a ciência ocidental, com os seus métodos, linguagens e instituições, continua a dominar. Isto levanta questões importantes sobre que vozes são ouvidas, que formas de conhecimento são validadas e como podemos abrir espaço a outras epistemologias, a comunidades indígenas, a outras geografias.
Se a Patrícia tivesse de resumir a sua conferência numa frase, diria o seguinte: o ensino da Economia Ecológica e o diálogo entre ciência e ação como peças fundamentais para a transformação.”
A Devina, ativista de XR Portugal, co-fundador de Climate Circle Lisbon e mestre em Justiça Climática pela Universidade de Glasgow Caledonian, resume a sua experiência da conferênica sob o título ‘Raiva e tudo o que está no meio’, num texto publicado previamente no LinkedIn e em inglês. Refere que durante a conferência, rodeada de pessoas de todo o mundo a pensar, a questionar, a resistir, a imaginar, sentiu algo a mudar em si. Apesar de ser suposto tratar-se uma conferência, foi mais como entrar num ecossistema vivo e respirável de cuidados, conflitos, coragem e solidariedade. Sublinha que não passou as suas férias a ouvir passivamente painéis sobre teorias pós-capitalistas. Passou-as a sentir. Passou-as a recordar. Passou-as a estar profunda, dolorosa e maravilhosamente viva com as outras pessoas.
Realça que se falou abertamente, muitas vezes de forma crua. Deu por si em conversas em que não precisava de explicar ou justificar demasiado a importância do decrescimento, da justiça, do clima, do colonialismo ou do luto. As pessoas simplesmente percebiam. Estávamos a carregar questões semelhantes, pesos semelhantes e, pela primeira vez, não se sentiu sozinha. Havia algo de libertador em estar entre estranhos que também estavam a procurar. Como só tínhamos alguns dias, deixámos cair os filtros e discutimos as coisas. Continua a guardar isto dentro de si e a tentar engarrafá-lo para quando se sentir perturbada ou desanimado com os acontecimentos da humanidade.
Mas sublinha que a par desse reconhecimento veio a tensão. Uma tensão real, necessária e não resolvida. Em várias sessões, especialmente nas que abordaram o colonialismo e o imperialismo, pôde sentir o peso do apagamento. A raiva, especialmente por parte dos membros da Maioria Global, era aguda e justificada. Porque muitas vezes, mesmo em espaços transformadores como o Degrowth, reproduzimos as próprias hierarquias a que dizemos resistir.
Não houve espaço suficiente para essa raiva. Não houve espaços suficientes para gritar, berrar e confrontar verdadeiramente a forma como a dinâmica colonial continua a moldar estas conversas. A estrutura do programa não deu espaço suficiente para um verdadeiro debate. Muitas sessões pareceram apressadas, com muito pouco tempo para perguntas, respostas ou um envolvimento mais profundo. As conversas que precisavam de espaço para respirar e desafiar foram muitas vezes limitadas ou encurtadas. Assim, com os limites de tempo, a agenda frenética e lotada, as perguntas e respostas limitadas e sem tempo ou espaço para o debate, muitas vozes foram comprimidas, ficaram sem resposta ou foram espremidas em margens apertadas.
E, no entanto, a raiva manifestou-se. Foi derramada nas plenárias, rompeu as fendas, exigiu ser ouvida. Lembrou-nos que, para que o decrescimento tenha algum significado, tem de ser decolonial. Deve romper com os modelos económicos imperiais e não recondicioná-los numa linguagem mais suave. Deve centrar-se naqueles que, histórica e atualmente, são mais afetados.... não apenas na teoria, mas na tomada de decisões, nas definições e na direção.
Assim sublinha que temos de levar este desconforto para a frente. Para as próximas conferências, para a forma como definimos e imaginamos o decrescimento, para a nossa organização, para o nosso trabalho. Se não dermos espaço para a dor, a fúria, as histórias que vivem nos nossos corpos, reproduziremos aquilo que dizemos estar a tentar desfazer.
Ainda assim, no meio de tudo isto, sentiu uma enorme sensação de pertença. Não um espaço perfeito, mas um espaço em movimento e um espaço vivo. Não um espaço higienizado ou idealizado... mas um tipo de pertença crua, honesta e complicada. Sentiu-se vista na sua complexidade, ouvida na sua incerteza, desafiada nas suas suposições. Lembrou-se porque é que se preocupa com este trabalho e porque é que não o pode fazer sozinha.
Remate que vamos levar isso para a frente. Não vamos polir o desconforto. Vamos aprofundá-lo, sentarmo-nos com ele, organizarmo-nos a partir dele.
Porque se o Degrowth significa alguma coisa, tem de ser tudo isto.
Resume assim o seu feedback para memória futura:
- O decrescimento deve ser reimaginado através de uma lente descolonial. Atualmente, o Degrowth continua a basear-se fortemente em narrativas eurocêntricas. Isto cria uma profunda tensão e frustração para os participantes da Maioria Global e das comunidades racializadas. Para que o Degrowth tenha relevância global, não podemos simplesmente convidar académicos e activistas do Sul Global para um enquadramento pré-existente. O próprio enquadramento tem de mudar. Caso contrário, o decrescimento arrisca-se a tornar-se apenas mais uma exportação imperialista vestida de verde.
- A raiva e o desconforto precisam de espaço. Em vez de temerem a disrupção, as futuras conferências devem conceber espaços que a permitam. A raiva não é uma ameaça ao decrescimento, mas um convite para ir mais fundo. Se não dermos espaço a essa raiva, arriscamo-nos a silenciar as verdades mais importantes.
- É necessária uma maior responsabilização. No futuro, as equipas organizadoras de conferências devem incluir e dar prioridade às vozes da Maioria Global no planeamento, estrutura e enquadramento. Não apenas em painéis, mas na própria essência do evento.
- Os espaços informais e relacionais são importantes. Algumas das aprendizagens mais significativas não aconteceram nas sessões oficiais. Aconteceram nas brechas. As futuras conferências devem reconhecer este facto e criar mais espaço para a ligação, a conversa e a reflexão conjunta fora dos formatos rígidos.
Tendo à conferência como estudante de dinâmica de sistemas, o Filipe assistiu a várias palestras e sessões sobre modelação socioeconómica. Refere ser bastante crítico em relação a este método que, no entanto, considera uma ferramenta extremamente útil. Entre sessões mais académicas e “científicas”, o Filipe explorou uma outra parte muito importante da conferência (como também já referido acima): as ligações humanas. Falar, cara-a-cara, com pessoas que conhecíamos apenas de e-mails. Falar sobre os tópicos mais variados com colegas que têm experiências muito diferentes.
Quatro episódios ficaram especialmente na memória do Filipe. Primeiro, as conversas com o Hugo, colega de Espanha, sobre a sua experiência a fazer política local e nacional. Segundo, ter conhecido uma das suas referências, a Kate Raworth. Depois de alguns momentos de vergonha, conseguiu conversar com a Kate durante uns minutos. Terceiro, as tensões constantes entre a academia e o ativismo — que, como foi dito pela Patrícia, não são sempre negativas — e até sobre diferentes perspetivas acerca do que é o de(s)crescimento, e como devemos falar sobre ele e agir sobre ele. Estas tensões podem, no pior cenário, corroer o nosso movimento (político, ativista, académico) por dentro, se forem ignoradas, ou se lidarmos mal com elas. Por último, uma experiência muito pessoal foi ter-se encontrado com um seu professor da Universidade de Bergen, tendo oportunidade de ver todas as pessoas, equipas e projetos que estão a fazer uso de dinâmica de sistemas. Também o facto de ter conhecido (melhor) a Patrícia deu-lhe oportunidade de partilhar expetativas, ideias e propostas para o futuro do ensino da economia em Portugal.
Por fim, o Filipe ficou surpreendido com a quantidade de pessoas portuguesas ou a fazer investigação em Portugal, muitas das quais nem se conheciam umas às outras. Gostaria ainda de fazer especial menção em relação a uma colega que mora na Escandinávia e nem sabia da existência da Rede para o Decrescimento, mas que está muito interessada no movimento. A pequena comunidade lusa refletia bem a variedade de pessoas que se podiam encontrar na conferência: ativistas que nunca investigaram, académicos que nunca foram ativistas (e que provavelmente não têm muito interesse em fazê-lo) e tudo o que está no meio.
No geral foi uma experiência muito positiva para quem participou, um lugar de aprendizagem e onde se criaram novos laços: Claramente a repetir!