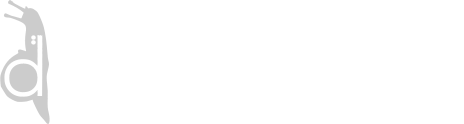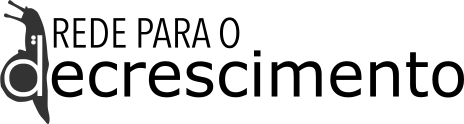Reconciliar economia e ecologia: condição necessária para um futuro sustentável

Texto originalmente publicado na Revista Vez & Voz (Animar)
A crise ambiental global, onde se inclui a (agora incontornável) catástrofe climática em curso, dada a ameaça que constitui para a nossa própria sobrevivência, representa o maior desafio civilizacional que temos pela frente. Mas é também aquele que estamos com maior dificuldade em enfrentar e resolver. Isso deve-se, por um lado, ao facto dos diversos sintomas dessa crise – alterações climáticas, esgotamento de recursos, extinção de biodiversidade, destruição de habitats e ecossistemas – resultarem de actividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, a agricultura intensiva, a desflorestação ou a sobrepesca, principalmente as que têm origem nos países mais ricos e industrializados. É por outo lado, igualmente uma consequência do paradigma socioeconómico dominante e dos interesses instalados, que estimulam aquelas actividades e originaram estilos de vida insustentáveis por parte da população mundial mais privilegiada. O défice de consciência e a negação em relação ao primeiro factor, assim como a falta de vontade política ou inacção em relação ao segundo, fazem o resto. Não irei aqui debruçar-me em detalhe sobre este diagnóstico, que é sustentado por diferentes relatórios e artigos oriundos da comunidade científica ou de instituições internacionais (ONU, WWF, etc.), tem sido descrito e enfatizado por diversos pensadores e líderes mundiais, além de ser motivo de mobilizações sociais à escala global, onde se destacam as acções pelo clima promovidas pelo movimento “350.org”, mas também por jovens estudantes através das Greves Climáticas Globais, e ainda pelas mobilizações do movimento “Extinction Rebellion”, que teve origem no Reino Unido, mas que se tem vindo a internacionalizar e a planear acções de desobediência civil em diversos países. A minha ênfase será, por um lado, na ligação entre a crise ecológica e o modelo económico globalizado, e, por outro, nas possibilidades de encontrar caminhos alternativos, quer através de propostas socioeconómicas e políticas, quer através de projectos ou iniciativas já em curso, que nos poderão conduzir a um futuro de bem-estar generalizado, justiça social e sustentabilidade ambiental.
Crise ecológica
Embora o impacto ambiental nefasto dos seres humanos ao longo da História esteja bem documentado, a dimensão global desse impacto e a velocidade com que se intensificou durante o século XX são inusitadas e têm justificado os diagnósticos mais sombrios e catastróficos. De facto, diversos avisos e relatórios oriundos de indivíduos ou instituições idóneos e com grande projecção mediática internacional têm veiculado aqueles prognósticos, como por exemplo a Encíclica ‘Laudato Si’ do Papa Francisco (2015), dois relatórios recentes de painéis intergovernamentais das Nações Unidas – o do IPCC (2018) e o do IPBES (2019), o relatório ‘Living Planet Report’ da World Wildlife Fund (2020) ou o Aviso de Cientistas Mundiais à Humanidade publicado em 2017 e com uma versão orientada para a emergência climática em 2019. Não se trata aqui de menorizar os avanços no conhecimento, na tecnologia e no bem-estar que foram alcançados por parte considerável da humanidade, mas de entender que esses mesmos avanços implicaram custos que muito dificilmente conseguiremos mitigar e que serão sentidos de forma muito desigual por diferentes sectores da população. Lamentavelmente, tem havido igualmente inúmeras tentativas, mais ou menos bem-sucedidas, de escamotear, menosprezar ou mesmo negar as inúmeras evidências disponíveis sobre a gravidade e extensão daqueles custos.
Quer a crise climática, quer a perda irreversível de biodiversidade (cuja gravidade é evidenciada pela designação deste fenómeno como ‘Sexta Extinção’), são duas componentes do Antropoceno, designação proposta para a era geológica actual com o intuito de destacar o papel dos seres humanos como principais agentes das mudanças geoclimáticas globais. No entanto, nem sempre é dado o devido destaque ao facto de a pegada ecológica humana não estar distribuída de um modo uniforme, quer geograficamente, quer socialmente; ou seja, que nem todos os seres humanos são igualmente responsáveis pela destruição em curso.
Nos Avisos de Cientistas Mundiais já referidos, os autores alertaram para o facto de nos vinte e cinco anos que se seguiram à Cimeira da Terra em 1992, a comunidade internacional ter fracassado na resolução da crise ambiental global, em particular por não ter conseguido reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) resultantes da queima de combustíveis fósseis, nem as taxas de desflorestação ou de perda global de biodiversidade, apesar das conferências das Nações Unidas dedicadas à crise climática ou à biodiversidade (em particular, as conhecidas COP) e de outras iniciativas como a Agenda 2030 (Objectivos do Desenvolvimento Sustentável). Atribuem esse fracasso à incapacidade de refrear o consumo material, de limitar o crescimento populacional, de reavaliar o papel de uma economia baseada no crescimento, de descarbonizar as actividades económicas e incentivar as energias renováveis, e de proteger os habitats, restaurar os ecossistemas, eliminar a defaunação e desflorestação, ou restringir as espécies exóticas invasoras. A inversão destas tendências só será possível pela adopção urgente de mudanças, que vão do comportamento individual à decisão colectiva, nomeadamente em termos de políticas ambientais (mitigação da crise climática e ecossistémica), populacionais (planeamento familiar eficaz e empoderamento das mulheres) e económicas (redução efectiva das desigualdades). No sentido de garantir uma transição para a sustentabilidade, os cientistas propõem não só medidas específicas de conservação e renaturalização para mitigar a perda de biodiversidade e de habitats, mas também medidas de fundo pertinentes como a redução do desperdício alimentar, a transição para dietas vegetarianas, a adopção de sistemas de preços, tributação e incentivos que contabilizem ou reduzam os custos ambientais, a eliminação de subsídios às indústrias de combustíveis fósseis e a adopção de tecnologias ecológicas e de energias renováveis. É importante frisar que a principal causa para a desflorestação, o empobrecimento dos solos e a destruição de ecossistemas é a agropecuária intensiva (ver p.ex. o relatório do IPBES). No entanto, ao não fazerem propostas concretas que ponham em causa o sistema económico mercantil, globalizado e produtivista, aqueles Avisos não têm gerado a mudança política que preconizavam (ver p.ex. Pacheco et al. 2018).
Tal só será possível se forem questionados, quer o modelo económico global baseado no crescimento, quer o paradigma tecnocientífico da modernidade, como causas profundas dos processos de destruição ambiental. Na verdade, sabemos que a crise ecológica tem pouco de acidental ou de arbitrário, na medida em que o estado actual do conhecimento nos permite associá-la de forma inequívoca às nossas acções e que o seu grau de destrutividade resulta, não só dos modelos tecnológicos e económicos adoptados pelas sociedades humanas, mas também das suas práticas culturais e visões do mundo. Parte dos desafios extremos que enfrentamos têm a sua raíz, por um lado, no pensamento racionalista e mecanicista do Iluminismo europeu, que lançaram as bases da ciência moderna, e, por outro, nos desenvolvimentos da revolução industrial e do capitalismo que puseram em prática as ideias de separação e dominação geradas pelo cartesianismo. O resultado final destes processos históricos, acentuado pelos ‘anos gloriosos’ do desenvolvimento do pós-guerra, é o cenário actual de destruição ambiental irreversível, que é, no entanto, encarado pelos poderes político e económico dominantes, bem como por parte da comunidade científica, como susceptível de mitigação por via tecnológica. Pelo contrário, há quem defenda que a degradação ambiental em curso deve ser apelidada de ecocídio e sancionada através de processos judiciais internacionais, realçando as suas ligações ao imperialismo e ao capitalismo.
Economia e ecologia
As palavras economia e ecologia têm uma raíz etimológica comum na palavra grega ‘oikos’, que significa casa, agregado familiar ou lugar onde se habita. A primeira refere-se então à gestão ou administração do lar ou dos lugares habitados e a segunda ao estudo sistemático da casa comum do Homem e dos restantes seres vivos. A economia tem sido considerada uma subdisciplina das ciências sociais e a ecologia uma área científica da biologia (ciências da vida). No entanto, a prática económica das últimas décadas tem-se aproximado mais do conceito aristotélico de crematística (que se resumia à acumulação de riqueza) do que do conceito original de economia, que dizia respeito à provisão de meios para uma vida boa e virtuosa. De facto, a ciência económica convencional baseia-se num sistema fechado de circulação de bens e serviços entre produtores e consumidores com o objectivo de criação ou acumulação de riqueza, com a agravante de os recursos naturais e os ecossistemas não serem sequer considerados nas avaliações económicas ou serem encarados como ‘externalidades’. Há mesmo quem questione o facto de a economia, em particular a chamada economia neoclássica, dever ser sequer considerada uma ciência devido exactamente ao seu carácter anti-científico de desconsiderar outras áreas do conhecimento (biologia, ecologia, termodinâmica, ética) e não encarar as actividades económicas como um subsistema da sociedade e do ecossistema planetário. O défice epistemológico da elite económica dominante (em particular os adeptos da corrente neoliberal) em relação à biologia/ecologia e à termodinâmica tem sido denunciado por diversos autores dentro e fora da economia, sendo de destacar os trabalhos do economista Nicholas Georgescu-Roegen sobre bioeconomia (limites termodinâmicos) e o famoso relatório do início dos anos 1970, “The Limits to Growth” (Os Limites do Crescimento), que apontava claramente para a impossibilidade biofísica do paradigma do crescimento económico ilimitado.
Uma ciência pretensamente económica que ignora a ciência ecológica parece à partida fadada ao insucesso. Mas esta tem sido infelizmente a visão orientadora das sociedades modernas que resultaram do racionalismo materialista europeu e das noções de desenvolvimento e de progresso, coloniais e pós-coloniais. Para piorar as coisas, tem sido esta a versão de economia ensinada nas principais escolas e instituições académicas dos países ocidentais. E é também esta a versão de economia que é apregoada diariamente nos media convencionais, que insistem na narrativa do ‘crescimento económico’, ilustrada com números e indicadores (como o PIB) que medem tudo menos aquilo que realmente significaria uma sociedade saudável: o bem-estar (individual e colectivo, de humanos e não-humanos, presentes e vindouros) e a sustentabilidade (social, ambiental, psicológica). A radicalização daquele modelo, com a adopção da ideologia neoliberal a partir dos anos 1980, conduziu a uma intensificação das narrativas do crescimento, do consumismo e do individualismo, que associaram a felicidade (ilusória) à posse e à ostentação. Os resultados desastrosos desse mesmo modelo estão à vista, com os custos sociais, psicológicos e ecológicos a tornar-se cada vez mais evidentes, quer à escala local, quer global. A globalização económica e a desregulação financeira das últimas décadas do século XX têm levado à intensificação das desigualdades sociais, à desestruturação de comunidades, à perda de identidade cultural e de valores éticos, ao aumento de doenças fisiológicas (obesidade, diabetes, cancros) e psicológicas (depressão, esgotamento), ao mesmo tempo que estão a conduzir ao consumo irreversível de recursos, à desregulação ambiental (da qual as alterações climáticas são a faceta mais visível), à destruição de ecossistemas e à perda de biodiversidade. Como alternativas a este modelo sociopata e ecocida, têm surgido diversas propostas socioeconómicas alternativas que defendem a redução do metabolismo económico (com a racionalização da produção e consumo de bens e serviços), a relocalização das actividades económicas, a reconstrução do tecido social baseada nas relações de proximidade e na convivialidade, e uma reavaliação dos conceitos de riqueza e bem-estar.
Experimentar outras vias
A mitigação ou inversão da crise ambiental global só serão possíveis através de mudanças sistémicas que promovam uma transição para modelos económicos ambiental- e socialmente justos e sustentáveis, como alternativa ao actual sistema baseado no capitalismo global, no extractivismo, no produtivismo, na mercantilização, na plutocracia e tecnocracia, no antropocentrismo e no patriarcado. Tais mudanças vão implicar necessariamente, não só profundas transformações culturais e de visão do mundo, como também forte resistência dos principais beneficiários do statu quo. Alguns autores têm usado expressões como ‘civilização ecológica’ ou ‘economia para um planeta vivo’ para descrever as suas próprias propostas, baseadas em práticas económicas que sejam simultaneamente regenerativas, comunitárias, biorregionais e auto-organizadas (p. ex. David Korten, Charles Eisenstein, Daniel Christian Wahl). Um desafio semelhante foi lançado pelo Papa Francisco na sua revolucionária encíclica ‘Laudato Si’ atrás referida, na qual apelou a uma conversão ecológica global que integrasse as dimensões ambiental, social, económica, cultural e espiritual (que apelidou de ecologia integral), como alternativa ao modelo civilizacional dominante, de base tecnocrática, injusto e autodestrutivo. Esta sua missiva não tem tido, no entanto, o impacto desejado na comunidade a que foi dirigida.
Uma eventual transição eco-social só parece ser possível através de abordagens que sejam sistémicas e permitam simultaneamente tirar partido da diversidade e das especificidades dos recursos e competências dos diferentes territórios e das suas populações. Têm surgido nos últimos anos várias projectos e movimentos que tentam responder a estes desafios através de estratégias baseadas na descentralização, na relocalização, na frugalidade, na horizontalidade e na autonomia. Algumas dessas propostas foram reunidas no sítio Internet “Systemic Alternatives”, iniciativa conjunta da Fundación Solón (Bolívia), Attac-França e Focus on the Global South (Sudoeste Asiático), que apresenta uma diversidade de caminhos complementares que vão do ‘Buen Vivir’ (baseada nas cosmovisões andinas e amazónicas) ao Decrescimento e ao Eco-feminismo, como alternativas justas e eficazes ao capitalismo global e à agenda dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável. A estes movimentos adicionaria igualmente as redes internacionais de justiça e soberania alimentar, da “Transition Network” e da “Global Ecovillage Network”, dadas as evidentes afinidades que os seus princípios e práticas apresentam.
O movimento do Decrescimento, em particular, propõe a redução planeada do metabolismo económico e material nos territórios com pegada eco-social insustentável do ‘norte global’. Os seus proponentes defendem que as eventuais reduções em abundância e conforto material nesse novo sistema económico não implicariam necessariamente diminuição de bem-estar ou de felicidade. De facto, a redução esperada na produção e consumo material seria acompanhada do crescimento nos serviços sociais, bem-estar, partilha, agricultura comunitária, cooperativas de trabalhadores e de energia, para além dum reforço do sentimento de comunidade. Entre as diversas propostas políticas dos decrescentistas incluem-se a relocalização das actividades económicas e a redução do tempo de trabalho, que atenuam de forma comprovada não só a produção material, o desperdício, o uso de energia e as emissões de GEE, como beneficiam a saúde e o bem-estar. Políticas para reduzir o horário de trabalho representariam não só um passo decisivo na reestruturação das actuais economias para lidar com a crise ambiental como aumentariam o tempo disponível para actividades culturais e cívicas.
Uma outra proposta, a economia da dádiva ou do dom (‘gift economy’), consiste na construção duma teia de relações económicas baseada na confiança, na complementaridade e reciprocidade de competências e capacidades no interior das sociedades humanas. Por seu lado, a ‘economia da felicidade’ propõe que a performance económica seja medida com base em indicadores que reflictam o bem-estar dos cidadãos e das comunidades, assim como a sustentabilidade das gerações vindouras e dos ecossistemas que as suportam.
Qualquer das propostas anteriores requer profundas mudanças de paradigma, de visão de mundo e de modo de vida. Precisamos pois de coragem e determinação para fazer a indispensável e urgente transição que nos afaste do colapso a que nos conduzirá o modelo económico que nos tem sido apregoado como inevitável. Mais do que pugnar por uma economia ecológica (um pleonasmo desnecessário), é pois hora de recuperar o significado original da palavra economia e devolver-lhe a sua verdadeira essência ecológica pela integração das três dimensões que o filósofo francês Félix Guattari lhe conferiu no seu livro ‘As três ecologias’ - a subjectiva (individual), a social e a ambiental.