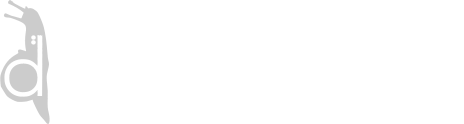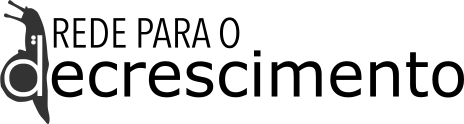O Círculo Ecofeminismo e Decrescimento da Rede, foi convidado por José Carlos Marques, das Edições Sempre-em-Pé, para co-apresentar, em Lisboa e no Porto, o livro “A Morte da Natureza: as mulheres, a ecologia e a revolução científica”, enfatizando a sua faceta feminista. Tal como a Vanessa Marcos aceitou falar sobre a obra na sede da associação Campo Aberto no Porto, eu embarquei no desafio lisboeta. Ao mesmo tempo, tentei questionar os próprios conceitos ecofeministas, isto é, promover um debate vivo e contraditório sobre estas matérias, o que veio efectivamente a acontecer no final das três apresentações. As duas primeiras intervenções estiveram a cargo de Ana Luísa Janeira (professora aposentada de história e filosofia a ciência) abordando a revolução científica, e de Maria José Varandas (professora e uma das fundadoras da Sociedade de Ética Ambiental) explanando o ângulo da ecologia.
É perceptível, ao longo da obra, que a autora Carolyn Merchant relata detalhadamente as mudanças sociais, económicas, culturais, religiosas ou científicas entre os séculos XVI e XVII, para justificar a ainda actual visão científica e mercantilista do mundo, da natureza e da mulher, a qual se tornou a ideologia filosófica da cultura ocidental nos últimos séculos. Isto por oposição a uma visão orgânica, feminina e viva dos mesmos, vigente nos séculos anteriores. Esta teoria organicista restringia a exploração da Terra ou a subjugação da mulher. O último modelo mencionado via o cosmos como organismo inteligente, onde todas as partes estavam ligadas e inter-relacionadas numa união viva. Mas, foi sacrificado pela revolução científica e pelo mecanicismo até ao século XX.
Na década de trinta e nos anos setenta do século XX, há novamente uma revolução em curso: a ecológica, que assenta nomeadamente nos processos holísticos (ideia de que todas as partes se afectam mutuamente) e no evidente esgotamento de recursos naturais, com um forte apoio dos movimentos feministas pela libertação das mulheres e dos activistas ecologistas de todo o mundo. Dou um exemplo, referido na página 110, o livro Ecotopia de Ernest Callenbach, lançado em 1976, onde se concebe uma sociedade em harmonia com o seu meio ambiente e com a tecnologia já criada (ou seja, conjugação de ambas as visões) onde são as mulheres que ocupam os cargos de poder.
O quadro mecanicista dava a natureza como morta, como passiva e dominada pelo homem, o que permitiu às sociedades um desenvolvimento industrial desenfreado, livre das restrições éticas associadas à ideia de natureza enquanto ser vivo. É algo que vem bem ilustrado nos capítulos oito e nove, relativos a dois dos seus elementos fundamentais, cujo centro é a máquina. Esses elementos são respectivamente a ordem (assente na superioridade de Deus e da matemática) e o poder (alcançado pela intervenção activa imediata sobre a natureza). Contudo, o modelo de gestão racional e previsível da natureza, imposto no século XVII vai mostrando as suas fragilidades, expõe o esgotamento de recursos (paralelo ao crescimento rápido da população, do comércio e indústrias) bem como demonstra os estragos ambientais irreversíveis. Isto vem descrito por Carolyn nos primeiros capítulos e igualmente no décimo capítulo, quando é abordada uma política de “destruir, demolir, arrasar”, acompanhada da ausência de métodos de conservação da natureza. As críticas foram sendo acompanhadas de adaptações do próprio modelo, sobretudo a partir do século XVIII.
Por outro lado, o modelo racional vai questionando os papéis atribuídos a cada género, nomeadamente as restrições culturais, económicas e sociais das mulheres, que as mantêm submissas face aos homens. Explicitando… logo no século XVI sujeitou-se a mulher à autoridade do pai e, mais tarde, à do marido, progressivamente afastando-a dos assuntos públicos. Um exemplo, a obra Nova Atlântida de Francis Bacon, que cria uma cidade, chamada Bensalém, a qual é hierárquica, tem uma administração científica no topo e de cariz patriarcal (descrita por Carolyn a partir da página 179). Este autor é, aliás, um dos responsáveis pelas tentativas de submissão quer da mulher quer da natureza do século XVII na sua utopia mecanicista e artificial.
Complicando um bocadinho, num breve parêntesis…
Este movimento ecológico recente acaba por expor as próprias contradições inerentes à relação de identificação entre mulher e natureza. Ou seja, ao haver esta semelhança, sendo ambas desvalorizadas socialmente, a mulher acaba por ser empurrada para o papel passivo e cuidador, dos quais se quer libertar. O apelo à biologia reprodutiva de ambas coloca o homem como que fora do papel cuidador, assumindo funções sociais de comando e também de alguma opressão contra mulheres e natureza. É necessário combater (e há correntes feministas pela igualdade que já o fazem) as construções histórico-sociais relativas ao género, uma vez que “qualquer indivíduo forma conceitos sobre a natureza de acordo com a cultura e educação que recebeu”, nas palavras da autora do livro. Eu acrescento que só com uma formação de personalidade indiferenciada de género poderemos atingir manifestações plenas de talento, seja feminino ou masculino. A actual corrente ecofeminista construtivista nega mesmo a relação da mulher com a natureza como uma característica intrínseca do sexo feminino, mas sim da responsabilidade de género resultante da divisão social do trabalho, da distribuição do poder e da propriedade. Reforço que não há sacralização das virtudes femininas; devemos sim encaminharmo-nos para a eliminação de rótulos antropomórficos.
Retomando o livro… ele vai analisando as ligações históricas entre mulher e natureza a par com o novo mundo científico que emergia no século XVI, bem como as tensões existentes entre visões de organicismo e mecanicismo. Não querendo fazer um resumo do mesmo, até porque ele é rico em referências bibliográficas e citações que remontam a Platão e Aristóteles (autores organicistas) ou a Leibniz e Newton (autores mecanicistas), há a destacar o quinto capítulo, intitulado “A Natureza como desordem: as mulheres e as bruxas”, o qual foi conjugado com algumas ideias do capítulo seis, uma vez que ele espelha uma forma muito peculiar de ver ambas. Ora, no modelo orgânico pré-revolução científica, a natureza e as mulheres tinham uma dupla identificação: por um lado, eram femininas, férteis e maternas; por outro, eram selvagens, incontroláveis, capazes de gerar perturbações e desordem. Uma nota, o domínio sobre a Natureza nos moldes aqui abordados da questão da mulher/bruxa também é explorado, mas já no sétimo capítulo. A dupla face da mulher traduz-se em ser simultaneamente virgem e bruxa, capaz de invocar tempestades e secas, causar doenças, destruir colheitas, fazer magias ou matar bebés. Esta visão quinhentista vem defender que a mulher tinha de ser controlada e subjugada, precisamente porque podia pôr em causa a ordem e a hierarquia organicistas e dar origem ao caos.
Os escritores e os teóricos dos séculos XVI e XVII, destacados pela autora, exaltavam o lado sombrio da mulher, colavam-na à ganância, à luxúria, ao diabo, ao prazer sexual e à corrupção física do homem. Também nas obras de arte era retratada como bruxa. Daí aos ferozes julgamentos por bruxaria foi um salto. Francis Bacon conseguiu inclusivé legitimar o recurso à tortura para com qualquer praticante de bruxaria. Isto ameaçou as vidas das mulheres de todos os estratos sociais em toda a Europa. Há aqui quase um “ódio” contra as mulheres, com o propósito de retirá-las de posições de poder, da sua capacidade reivindicatória, da intelectualidade e sobre o seu próprio corpo. Por esta altura, todas as classes sociais viram a maioria das mulheres perder o seu papel activo e os seus trabalhos remunerados, sendo empurradas e limitadas à vida doméstica. Mesmo as das classes altas foram restringidas a uma vida de lazer, simbolizando o sucesso do marido. Ainda que os defensores do mecanicismo tenham tentado captar o interesse e o apoio destas senhoras de maiores posses para a nova ciência, o que facilitava a propagação e institucionalização enquanto metodologia dominante (mesmo que fosse limitativa dos direitos das mulheres). As restrições alastraram também às rainhas, por exemplo Maria Tudor e Isabel primeira na Inglaterra. Ou seja, surgiu uma reacção social que condenou a governação das mulheres porque subverte a boa ordem, porque retira-a do papel inferior de cuidadora, alimentadora, reprodutora… A mulher deveria ser o corpo que apoiava a cabeça intelectual, governante, função essa dada ao homem. Mesmo no seio da igreja, os movimentos religiosos para a igualdade da mulher não tiveram sucesso.
No século XVII, paralelamente à figura da bruxa, também a figura da parteira foi contestada, dando-a como incompetente na sua própria área natural - a reprodução – passando esta função para as mãos de médicos homens (a formação médica era, aliás, negada à maioria, não apenas a mulheres). A teoria da passividade feminina na reprodução consolidou-se firmemente com ajuda dos escritores pensadores à época, como por exemplo William Harvey, que defendeu a superioridade masculina até no momento da fertilização.
No capítulo onze, nomeadamente a partir da página 264, é possível confirmar como as mulheres filósofas nos séculos XVII e XVIII percebiam e, sobretudo, combatiam a desigualdade a que estavam votadas. Citando a autora do livro: “as mulheres estavam atentas e reagiam aos avanços económicos e educacionais que os homens haviam alcançado, enquanto que as suas próprias oportunidades haviam sido, por comparação, significativamente limitadas.”. Ou seja, não é uma questão de inferioridade intelectual feminina mas sim das práticas educativas e da sua posição social. O recurso à ciência como uma ideologia para manter as mulheres num lugar inferior continuou nos tempos modernos. No século XIX, foram levados a cabo estudos científicos sobre a dimensão do crânio para provar a inferioridade intelectual e o temperamento emocional feminino. No século XX, avançaram teorias sobre as diferenças hormonais, defendendo uma intelectualidade inferior da mulher e, por consequência, economicamente dependente. Felizmente, estes estudos foram criticados e foram expostos os seus pressupostos culturais em vez de científicos.
Aproveitei a última parte da minha intervenção para estabelecer uma relação entre o ecofeminismo e o decrescimento. Ressalvo que a primeira vez que se recorreu ao termo ecofeminismofoi seis anos antes do lançamento deste livro, em 1974, na obra “Le Feminisme ou la Mort” de Françoise d’Eaubonne. Ainda que sem nunca os nomear, a autora Carolyn Merchant aborda os ideais decrescentistas.
Estou em crer que, aliando uma perspectiva decrescentista a uma perspectiva ecofeminista, é possível forjar alternativas ao actual sistema, o qual está assente, entre outras, no domínio patriarcal, que desapropria as mulheres da sua ligação à terra e ao solo, retirando-lhes autonomia e capacidade de subsistência;no capitalismo dominante, que se apropria das esferas humanas e ecológicas, retirando-lhes a capacidade de se auto-sustentarem; nas desigualdades;e na destruição dos ecossistemas.
Fazendo um paralelismo… na página 70 do livro, a autora reconhece “a economia de mercado capitalista emergente (século XVI, relembro) é uma força incansável de expansão e acumulação em detrimento do ambiente e das comunidades humanas”. E em todo o capítulo dez, desenvolve a ideia, já oitocentista, da importância de uma gestão ecológica racional da natureza aliada aos ideais organicistas dos séculos passados e ao progresso comercial, com equilíbrio das populações. Estes filósofos são chamados vitalistas (para eles, quer natureza quer corpo e espírito são organismos vivos).
Com essa aliança, consegue-se ir combatendo as várias crises actuais, todas elas interligadas. A economista espanhola Amaia Pérez Orozco, uma amiga da Rede para o Decrescimento, descrevendo a situação presente, disse: “o capitalismo patriarcal está em permanente conflito com a vida humana e a não humana para garantir a reprodução social, não conseguindo assegurar a sustentabilidade humana, social e ecológica”. O reconhecimento desta policrise permite-nos apresentar propostas, bem como apelar à mobilização em torno de causas muito específicas. Logo à cabeça surge a necessidade da redução da produção num planeta finito e sobejamente depredado a um ritmo acelerado e permanente, e a redução do consumo. Eu pergunto: serão reais as necessidades que muitas vezes sentimos? Conseguimos viver com menos bens materiais, investindo em valores como o cuidado, a autonomia, a solidariedade, o buen convivir ou a democracia participativa?
É imperativo conjugar a luta feminista e o reconhecimento do papel da mulher com a defesa dos limites ecológicos, com a construção de estruturas comunitárias, colaborativas e cooperativas na sociedade, com o alargamento a economias de base local e a outras economias que reconhecem o trabalho feminino não remunerado e, finalmente, com a justa distribuição de recursos, diminuindo o fosso entre Norte global e o Sul global colonizado.
No meu entender, há um contributo significativo da autora também para esta temática das mulheres, além das relativas à ecologia e à revolução científica já apresentadas, uma vez que colocou as questões de género no seio do debate científico europeu, bem como expôs o modo como o sexismo conformou a prática científica e a atitude depredatória para com o ambiente. Cito aqui duas conclusões de Carolyn Merchant, ambas na página 282: “A natureza animada e viva morreu, enquanto o dinheiro inanimado e morto era dotado de vida”. Por outro lado, conclui: “A natureza, as mulheres, os negros e os trabalhadores assalariados foram lançados numa via rumo a um novo estatuto de recursos naturais e humanos em proveito do sistema mundial moderno”.
A esta última, contraponho um chavão universalmente difundido e que é mote de uma luta em curso: Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista.